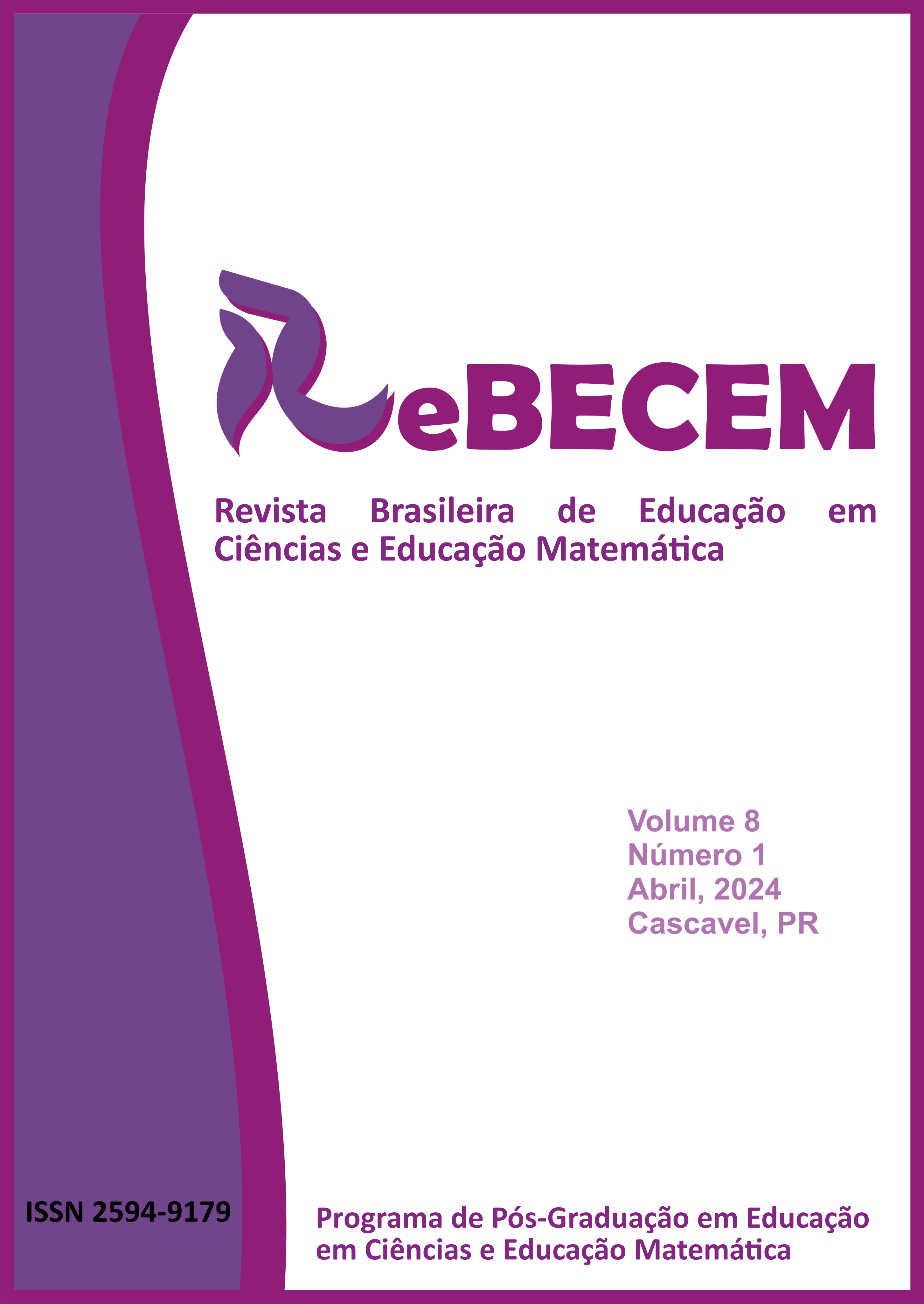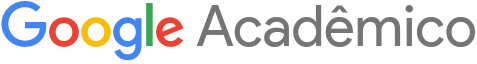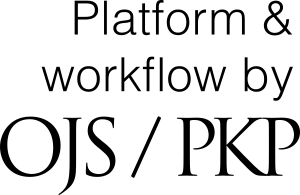A multisensory approach for teaching chromatography in an inclusive perspective
DOI:
https://doi.org/10.48075/ReBECEM.2024.v.8.n.1.30185Keywords:
Cromatography, Inclusive Education, Multisensory Didactics, Chemistry TeachingAbstract
Science teaching and learning processes are commonly associated with vision. Particularly, in cromathography teaching process, vision stands out. Cromatography is the technique of substances separation, often used in science teaching to approach scientific concepts and methods related to polarity and mixture separation, as planned by the Common Curriculum National Base. Different colorations are obtained after the process of separation, restricting the learning of pupils with visual deficiency. Soler (1999) proposes that learning can happen using all sensorial channels, within the perspective of Multissensorial Didactics. However, there are few works in literature that presents Chemistry teaching proposals in that perspective. Thus, the present work aims to present and describe a cromatography teaching proposal, based on multissensoriality perspective that, when executed, could allow the comprehension of concepts related to chromatography content to any student, in the perspective of Inclusive Education.
Downloads
References
ALCANTARA-GARCIA J.; SZELEWSKI M. Peak Race: An In-Class Game Introducing Chromatography Concepts and Terms in Art Conservation. J. Chem. Educ, Washington DC, v. 93, n. 1, p. 154−157. 2016.
AMARAL, G. K.; FERREIRA, A.C.; DICKMAN, A. G. Educação de estudantes cegos na escola inclusiva: O ensino de Física. In: Simpósio Nacional de Ensino de Física, 18, 2009, Vitória-ES. Atas. Vitória- ES: 2009. P. 1-8. Disponivel em < https://sec.sbfisica.org.br/eventos/snef/xviii/index.htm>. Acesso em: 23, mar. 2020.
ANTONIO, D. C.; AMANCIO, L. P.; ROSSET, I. G. Biocatalytic Ethanolysis of Waste Chicken Fat for Biodiesel Production. Catal Lett, s/l, v. 148, s/n, p.3214-3222. 2018.
ATKINS, P.; JONES, L. Princípios de Química-Questionando a vida moderna e o meio ambiente. 5 ed. Porto Alegre- RS:Bookman. 2012.
BEDOR, D. C. G. Desenvolvimento e validação de métodos bioanalíticos para dosagem de antimicrobianos em plasma humano. 2007. 60 f. Dissertação (mestrado) – Ciências Farmacêuticas, Universidade Federal do Pernambuco, Recife, 2007.
BENITE, C.R.M.; BENITE, A.M.C.; BONOMO, F.A.F.; VARGAS, G.N.; ARAUJO, R.J. de S.; ALVES, D.R. A experimentação no Ensino de Química para deficientes visuais com o uso de tecnologia assistiva: o termômetro vocalizado. Química nova na escola, São Paulo, v. 39, n° 3, p. 245-249, agosto 2017.
BETTIO, C. D. B.; MIRANDA, A. C. A.; SHMIDT, A. Desenho universal para a prendizagem e ensino inclusivo na educação infantil. 1ª Edição. Ribeirão Preto: FFCLRP-USP. 2021.
BIZZO, N. Ciências: Fácil ou Difícil?. 2ª Edição. São Paulo: Editora Ática. 2002.
BRASIL (2015). Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Brasília: Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos.
BRASIL (2008) - Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (Ministério da Educação/ Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão: MEC/SECADI). 15p.
BRASIL (2018)- Base Nacional Comum Curricular- A Base. Brasilia- DF. 595p.
CAMARGO, E. P. Saberes docentes para a inclusão do aluno com deficiência visual em aulas de física [online].1 ed. São Paulo: Editora UNESP. 2012. Disponível em:<http://books.scielo.org/id/zq8t6/pdf/camargo-9788539303533.pdf>. Acesso em 17 de abril de 2019.
CERQUEIRA, J. B.; FERREIRA, E. M. B. Recursos didáticos na educação especial. Benjamin Constant, Rio de Janeiro RJ, s/v, n. 15, p. 1-6. 2000.
COLLINS, C. H.; BRAGA, G. L.; BONATO, P. S. Fundamentos de Cromatografia. 1ª Edição. Campinas: Editora da Unicamp. 2010.
COSTA, E. L. da.; BASTOS, A. R. B. de. Desenho universal para a aprendizagem no ensino de ciências: estratégias para o estudo do sistema digestório. IV Congresso Internacional de Educação Inclusiva e Jornada Chilena Brasileira de Educação Inclusiva, 2021, Campina Grande-PB. Anais. Campina Grande-PB: 2021, s/p. Disponível em:< https://editorarealize.com.br/edicao/detalhes/anais-do-iv-cintedi>. Acesso em: 13 jul. de 2023.
COUTO A. B.; RAMOS, L. A.; CAVALHEIRO, E. T. G. Aplicação de pigmentos de flores no ensino de química. Química nova, São Paulo-SP, v. 21, n. 2, p. 221-227, 1998.
DAMIANI, M. F. Entendendo o trabalho colaborativo em educação e revelando seus benefícios. Educ. rev., Curitiba-PR, s/v, n. 31, p. 213-230. 2008.
DARIM, L.P.; GURIDI, V.M.; CRITTELLI, B.A. A multissensorialidade nos recursos didáticos planejados para o ensino de Ciências orientado a estudantes com deficiência visual: uma revisão da literatura. Revista Educação Especial, Santa Maria -RS, v. 34, p. 1- 28, 2021
DIAS, M. V.; GUIMARÃES, P. I. C.; MERÇON, F. Corantes naturais: extração e emprego como indicadores de pH. Química Nova na Escola, São Paulo, s/v, n. 17, p. 27-31. 2003.
DONG, F. M.; IWAOKA, W. T. Next steps. Journal of Food Science Education, Chigago, IL, v. 20, n. 4, p. 116-118. 2021.
DUARTE, C. C. C., OSHIRO, L. C. S., CARVALHO, L. P. de, BENEDETTI FILHO, E.; SOUZA, J. A. de. Química para além da visão: Uma proposta de material didático para ensinar química para deficientes visuais. Revista ELO- Diálogos em Extensão, Viçosa, v. 8., n. 2, p. 42-50. 2019.
FACCI, M. G. D. O trabalho do professor na perspectiva da psicologia vigotskiana. In: FACCI, M. G. D. (Org.) Valorização ou esvaziamento do trabalho do professor?. 1ª Edição, Campinas-SP: Autores Associados, 2004. p. 195-250.
FERNANDES, T. C.; HUSSEIN, F. G. R. S.; DOMINGUES, R. C. P. R. Ensino de química para deficientes visuais: a importância da experimentação num enfoque multissensorial. Química Nova na Escola, São Paulo-SP, v. 39, n. 2, p. 195-203. 2017.
FRACETO, L. F.; LIMA, S. L. T. Aplicação da cromatografia em papel na separação de corantes em pastilhas de chocolate. Química nova na Escola, São Paulo-SP, s/v, n. 18, p. 46-48. 2003.
FREIRE, M. Observação, Registro e Reflexão. Instrumentos Metodológicos I. 2ª Edição. São Paulo: Espaço Pedagógico, 1996.
FREIRE, M. Educador. 10ª Edição. São Paulo: Paz & Terra, 2008.
FREIRE, S. B.; BERNARDES, M. E. M. A mediação do conhecimento teórico - filosófico na atividade pedagógica: um estudo sobre as possibilidades de superação das manifestações do fracasso escolar. Obutchémie: Revista de Didática e Psicologia Pedagógica, Uberlândia - MG, v. 1, n. 2, p. 310-329. 2017.
GONÇALVES, F. P.; REGIANI, A.M.; AURAS, S.R.; SILVEIRA, T.S.; COELHO, J.C.; HOBMEIR, A.K.T. Educação Inclusiva na Formação de Professores e no Ensino de Química: A Deficiência Visual em Debate. Química Nova na Escola, São Paulo-SP, v. 35, n. 4, p. 264-271. 2013.
GONÇALVES, U. T. de V. Desenho Universal para a Aprendizagem no ensino de Ciências da Natureza na perspectiva inclusiva. 2019. 108 f. Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) – Ciências da Natureza, Universidade Federal do Pampa, Dom Pedrito-RS, 2019.
GURIDI, V.M.; DARIM, L.P.; CRITTELLI, B. Reflexões acerca da didática multissensorial aplicada ao ensino de ciências para pessoas com deficiência. Revista de Enseñanza de la Física, v. 32, n. extra, p. 171-180. 2020.
HUIZINGA, J. Homo ludens. 5ª Edição. São Paulo. Perspectiva. 2005.
IWASHINA T. Contribution to flower colors of flavonoids including anthocyanins: a review. Natural product communications, Thousand Oaks, CA, v. 10, n. 3, p. 529–544. 2015.
KHOO H. E; PRASAD, K.N.; KONG, K.-W.; JIANG, Y.; ISMAIL, A. Carotenoids and Their Isomers: Color Pigments in Fruits and Vegetables. Molecules, Basel, Suiça, v. 16, n. 2, p. 1710-1738. 2011.
KRASILCHIK, M. Prática de Ensino de Biologia. 4ª Edição. São Paulo: Edusp. 2008.
LORKE J.; SOMMER K. Teaching chromatography in secondary school – an investigation concerning grade, context, content, experiments and media. Problems of Education in the 21st Century, Siauliai, Lituânia, v. 19, p. 63-69. 2010.
MLODZINSKA, E. Survey of Plant Pigments: Molecular and environmental determinants of plant colors. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica, Cracóvia, Polônia, v. 51, n. 1, p. 7–16. 2009.
MOREIRA, S. G.; FABRIS, H.; RADINZ, I.H.R.; RAMOS, J.V. J. Elaboração de roteiros experimentais para processos de separação de misturas. Revista Ifes Ciências, Vitória-ES, v. 6, n. 1, p. 1-17. 2021.
PACHECO, S.; BORGUINI, R. G.; SANTIAGO, M. C. P. A.; NASCIMENTO, L. S. M.; GODOY, R. L. O. História da cromatografia líquida. Revista Virtual de Química, Niterói-RJ v.7, n. 4, p. 1225-1271. 2015.
REECE, J.B.; URRY, L.A.; CAIN, M.L.; WASSERMAN, S.A.; MINORSKY, P.V.; JACKSON, R.V. Biologia de Campbell, 10ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2015. 1442p.
RIFFEL, A; COSTA, J. G. da. Os voláteis de plantas e o seu potencial para a agricultura, Aracaju: Empraba Tabuleiros Costeiros, 2015.
SADAVA, D.; HELLER, H.C.; ORIANS, G.H.; PURVES, W.K.; HILLS, D.M. Vida: A ciência da Biologia v.1 Célula e hereditariedade. 8ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 461p.
SASSAKI, R. K. Inclusão: O Paradigma do Século XXI. Inclusão- Revista da Educação Especial, Brasília: MEC/SEESP, v. 1, n. 1, p. 19-23. 2005.
SASSAKI, R.K. Inclusão: acessibilidade no lazer, trabalho e educação. Revista Nacional de Reabilitação (Reação), São Paulo, Ano XII, mar./abr. 2009, p. 10-16.
SCHWAHN, M. C. A.; NETO, A. S de A. Ensinando química para alunos com deficiência visual: uma revisão de literatura. In: Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências, 8, 2011, Campinas-SP. Atas. Campinas-SP: 2011, s/p. Disponivel em <http://abrapecnet.org.br/atas_enpec/viiienpec/index.htm>. Acesso em: 21 set. 2019.
SILVA, F. T. S.; MEINHART, A. D.; TEIXEIRA, R. S.; NORA, L. Método para separação de clorofilas e carotenóides de couve por cromatografia em coluna com materiais de fácil acesso: ferramenta para promoção e incentivo ao ensino de química. In: XXIII ENPÓS – Encontro de Pós-Graduação, 2021, Rio de Janeiro-RJ. Anais. Rio de Janeiro-RJ: 2021, s/p. Disponível em:
< https://cti.ufpel.edu.br/siepe/arquivos/2021/CA_02020.pdf>. Acesso em: 13 jul. 2022.
SILVA, R. T.; PIASSI, L. P. C. A inclusão de pessoas idosas com deficiência visual na difusão científica. EDUCA – Revista Multidisciplinar em Educação, Porto Velho-RO, v. 6, n. 16, p. 299-323. 2019.
SILVA, R. T; PIASSI, L. P. C. Como os jovens universitários enxergam os idosos com deficiência visual?. Textura, Canoas- RS, v. 22, n. 49, p. 142-166. 2020.
SILVA, T.S.; LANDIM, M.F. Tendências de pesquisa em Ensino de Ciências voltadas a alunos com deficiência visual. Scientia Plena. Vol. 10. n.04. p. 1-12, 2014.
SILVER, J. Let Us Teach Proper Thin Layer Chromatography Technique!. J.Chem. Educ. Washigton DC, v. 97, n. 12, p. 4217-4219. 2020.
SOLER, M. A. M. Didáctica multisensorial de las ciencias- Un nuevo método para alumnos ciegos, deficientes visuales y también sin problemas de visión. Ediciones Paidós Ibérica S.A. 1999.
SOUZA, S. E. I. O uso de recursos didáticos no ensino escolar. Arq.Mudi, Maringá-PR, v. 11. (Supl.2). p.110-114. 2007.
TAVARES, L. H. W.; CAMARGO, E. P. de. Inclusão Escolar, Necessidades Educacionais Especiais e Ensino de Ciências: Alguns Apontamentos. Ciência em Tela, Rio de Janeiro, v. 3, n. 2, p. 1-8, 2010.
TRINDADE, I. T. M.; YAMASHITA, E.F.R.; SILVA, L.P. da; SOUZA, E.A.; CORREA, G.M.; CARMO, D. F. de M. Aprendendo química no ensino médio através da separação de pigmentos por cromatografia em camada delgada. Brazilian Journal of Development, São José dos Pinhais-PR, v. 7, n. 1, p. 3008-3018. 2021.
UNESCO. Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Declaração de Salamanca. 1994.
VIEGAS, J. C.; BOLZANI, V. DA S.; BARREIRO, E. J. Os produtos naturais e a química medicinal moderna. Quim. Nova, São Paulo-SP, v. 29, n. 2, p. 326-337. 2006.
VIGOTSKI, L. S. Obras escogidas V: Fundamentos de defectologia. Visor Dis., S.A. Traducción: BLANK, J.G. Madrid, 1997.
VIGOTSKI, L.S. Desenvolvimento dos conceitos cotidianos e científicos na idade escolar. In: VIGOTSKI, L. S. Psicologia Pedagógica, 1ª Edição, São Paulo: Martins Fontes. 2001, p. 517-545.
VIGOTSKI, L. S. A defectologia e o estudo do desenvolvimento e da educação da criança anormal. Educação e Pesquisa, São Paulo-SP, v. 37, n. 4, p. 863-869. 2011.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Lucas Pasquali Darim, Camila Pinto Dourado, Verónica Marcela Guridi , Adilson Pereira, Rodrigo Camara Barboza, Miriam Sannomiya

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Autores que publicam nesta revista concordam com os seguintes termos:
1. Autores mantém os direitos autorais e concedem à revista o direito de primeira publicação, com o trabalho simultaneamente licenciado sob a Licença Creative Commons Attribution que permite o compartilhamento do trabalho com reconhecimento da autoria e publicação inicial nesta revista.2. Autores têm autorização para assumir contratos adicionais separadamente, para distribuição não-exclusiva da versão do trabalho publicada nesta revista (ex.: publicar em repositório institucional ou como capítulo de livro), com reconhecimento de autoria e publicação inicial nesta revista.
3. Autores têm permissão e são estimulados a publicar e distribuir seu trabalho online (ex.: em repositórios institucionais ou na sua página pessoal) a qualquer ponto antes ou durante o processo editorial, já que isso pode gerar alterações produtivas, bem como aumentar o impacto e a citação do trabalho publicado (Veja O Efeito do Acesso Livre).
Licença Creative Commons
Esta obra está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional, o que permite compartilhar, copiar, distribuir, exibir, reproduzir, a totalidade ou partes desde que não tenha objetivo comercial e sejam citados os autores e a fonte.