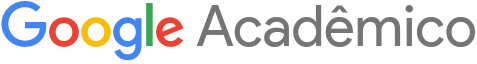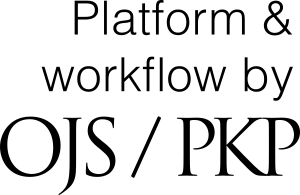EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS EM CONTEXTOS DE PÓS-VERDADES: FOMENTANDO O PENSAMENTO CRÍTICO
DOI:
https://doi.org/10.48075/ReBECEM.2024.v.8.n.3.33012Palavras-chave:
Negacionismos, Fake News, Estudos Sociais sobre Ciência-Tecnologia, História e Filosofia da Ciência, VerdadeResumo
Este ensaio promove reflexões sobre os conhecimentos necessários à denúncia de perspectivas cientificistas e negacionistas em contextos de pós-verdades, apresentando elementos históricos, sociológicos, pedagógicos e epistemológicos que sustentam a dimensão social da ciência-tecnologia (CT). Para tanto, o ensaio percorre por algumas abordagens sobre a verdade postas ao longo da história da humanidade, expondo suas características e implicações para a Educação em Ciências. O principal argumento defendido é o de que a denúncia de perspectivas absolutas presentes na própria ciência, bem como de visões anticiência, intensificadas em tempos de pós-verdade, não constitui um movimento autoexcludente, pelo contrário, trata-se de um movimento que se complementa e termina por fortalecer uma visão realista da atividade científica. Essas discussões contribuem para o enfrentamento da desinformação científica no cenário atual, ressaltando o compromisso da Educação em Ciências com a transformação crítica da realidade.
Downloads
Referências
ARENDT, H. Origens do Totalitarismo: Anti-semitismo, Imperialismo e Totalitarismo. Tradução de Roberto Raposo. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. 827 p.
AULER, D. Interações entre Ciência-Tecnologia-Sociedade no contexto da formação de professores de ciências. 2002. 248 f. Tese (Doutorado em Educação) - Centro de Ciências da Educação, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2002.
AZEVEDO, M.; BORBA, R. C. N. Educação em Ciências em tempos de pós-verdade: pensando sentidos e discutindo intencionalidades. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, Florianópolis, v. 37, n. 3, p. 1551-1576. 2020.
BAZZO, W. A.; VON LINSINGEN, I. PEREIRA, L. T. V. Introdução aos Estudos CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade). Cadernos de Ibero-América. Madri, Espanha: OEI (Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura), 2003.
BRABO, J. Falácias, pós-verdade e ensino-aprendizagem de Ciências. Ensino & Pesquisa, União da Vitória, v. 19, n. 1, p. 25-38. 2021.
BOURDIEU, P. As regras da arte: gênese e estrutura do campo literário. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. 431 p.
BOURDIEU, P. Ofício de sociólogo: metodologia da pesquisa na sociologia / Pierre Bourdieu, Jean-Claude Chamboredon, Jean-Claude Passeron; Tradução de Guilherme João de Freitas Teixeira. 7. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010. 340 p.
BOURDIEU, P. A economia das trocas simbólicas. 6. ed. São Paulo: Perspectiva, 2005. 361 p.
CASSIANI, S.; SELLES, S. L. E.; OSTERMANN, F. Negacionismo científico e crítica à Ciência: interrogações decoloniais. Ciência & Educação, Bauru, v. 28, e22000, 2022.
CHALMERS, A. F. O que é Ciência, afinal? 1. ed. São Paulo: Brasiliense, 1993. 210 p.
CHAUI, M. Convite à filosofia. 12. ed. São Paulo: Ática, 2002. 440 p.
CHAUI, M. O que é ideologia. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 2008. 148 p.
DELIZOICOV, D.; ANGOTTI, J. A. P.; PERNAMBUCO, M. M. C. A. Ensino de Ciências: fundamentos e métodos. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2018. 288 p.
FERNANDES, C. S.; MARQUES, C. A.; DELIZOICOV, D. Contextualização na formação inicial de ciências e a perspectiva educacional de Paulo Freire. Revista Ensaio, Belo Horizonte, v.18, n. 2, p. 9-28. 2016.
FEYERABEND, P. Contra o método. Tradução de Octanny, S. da Mota e Leonidas Hegenberg. 1. ed. RJ: Francisco Alves, 1989. 488 p.
FOUREZ, G. A construção das ciências: introdução à filosofia e à ética das ciências. 1. ed. São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista, 1995. 321 p.
FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. 42 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005. 213. p.
GIL-PÉREZ, D.; MONTORO I. F.; ALÍS, J. C.; CACHAPUZ, A.; PRAIA, J. Por uma imagem não deformada do trabalho científico. Ciência & Educação, Bauru, v.7, n.2, p.125-153. 2001.
GUIMARÃES, M. Educação Ambiental Crítica. In: LAYRARGUES, P. P. (Org.)
Identidades da Educação Ambiental Brasileira. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2004. p. 25-34.
HAACK, S. Filosofia das lógicas. Tradução de Cezar Augusto Mortari, Luiz Henrique de Araújo Dutra. São Paulo: Editora UNESP, 2002. 356 p.
HAACK, S. Six signs of scientism. Logos & Episteme, v. 3, n. 1, p. 75-95. 2012.
HEES, L. W. B.; LIMA, A. P.; MAGALHÃES, B. A.; RIBEIRO, J.; PAIXÃO, M.; PAIXAO, S. C. L. Afinal, o que é verdade? Complexitas - Revista de Filosofia, v. 3, p. 29-39. 2018.
IBRAIM, S. S. Caracterizações de ações docentes favoráveis ao ensino de ciências envolvendo argumentação. 2018. 224 p. Tese (doutorado em Educação) - Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2018.
JAPIASSU, H. O mito da neutralidade científica. Rio de Janeiro: Imago, 1975. 188 p.
KUHN, T. S. A estrutura das revoluções científicas. 5. ed. São Paulo: Editora Perspectiva, 1998. 324 p.
LATOUR, B. Ciência em ação: como seguir cientistas e engenheiros sociedade afora. São Paulo: UNESP, 2000.
LATOUR, B., WOOLGAR, S. Laboratory Life: The Construction of Scientific Facts. 2nd edition. Princeton: Princeton University Press, 1986.
LIMA, N. W.; VAZATA, P. A. V.; MORAES, A. G.; CAVALCANTI, C. J. H.; OSTERMANN, F. Educação em Ciências nos Tempos de Pós-Verdade: Reflexões Metafísicas a partir dos Estudos das Ciências de Bruno Latour. Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências, Belo Horizonte, v. 19, n.1, p. 155-189. 2019.
MARX, K.; ENGELS, F. A ideologia alemã. Tradução de Rubens Enderle, Nélio Schneider e Luciano Cavini Martorano. 3 ed. São Paulo: Boitempo, 2007. 119 p.
OSBORNE, J.; DILLON, J. How Science works: what is the nature of scientific reasoning and what do we know about students’ understanding? In: OSBORNE, J.; DILLON, J. (Ed.) Good Practice in Science Teaching: What research has to say. New York: Openup, 2010. p. 20-46.
PEREIRA, A. A. G.; SANTOS, C. A. Proposta teórico-conceitual para a análise da confiabilidade e credibilidade de (des)informações científicas nas mídias: implicações para o Ensino de Ciências. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, Santa Catarina, v. 39, p. 688-711. 2022.
RAMOS JR., A. N. Desafios da COVID Longa no Brasil: uma agenda inacabada para o SUS. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 40, n. 2, p. 1-6. 2024.
RIBEIRO, F. A verdade em jogo: elementos para uma análise da epistemologia de Pierre Bourdieu. CSOnline – Revista Eletrônica de Ciências Sociais, Juiz de Fora, v. 1, n. 32, p. 10-24. 2020.
ROSA, K.; ALVES-BRITO, A.; PINHEIRO, B. C. S. Pós-verdade para quem? Fatos produzidos por uma ciência racista. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, v. 37, n. 3, p. 1440-1468. 2020.
SANTAELLA, L. A pós-verdade é verdadeira ou falsa? 1 ed. Barueri: Estação das Letras e Cores, 2018. 96 p.
SANTOS, B. S. Um discurso sobre as ciências na transição para uma ciência pós-moderna. Estudos avançados, São Paulo, v. 2, n. 2, p. 46-71, mai./ago. 1988.
SANTOS-FILHO, J. C.; GAMBOA, S. S. Pesquisa educacional: quantidade-qualidade. 2. ed. São Paulo: Cortez, 1997. 120 p.
SANTOS, W. L. P. Educação Científica Humanística em uma perspectiva Freireana: resgatando a função do ensino de CTS. Alexandria: Revista de Educação em Ciência e Tecnologia, v.1, n.1, p. 109-131. mar. 2008.
TAKIMOTO, E. Como dialogar com um negacionista. São Paulo: Livraria da Física, 2021.152 p.
Downloads
Publicado
Como Citar
Edição
Seção
Licença
Copyright (c) 2024 Rodrigo da Luz, Eliane dos Santos Almeida

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Autores que publicam nesta revista concordam com os seguintes termos:
1. Autores mantém os direitos autorais e concedem à revista o direito de primeira publicação, com o trabalho simultaneamente licenciado sob a Licença Creative Commons Attribution que permite o compartilhamento do trabalho com reconhecimento da autoria e publicação inicial nesta revista.2. Autores têm autorização para assumir contratos adicionais separadamente, para distribuição não-exclusiva da versão do trabalho publicada nesta revista (ex.: publicar em repositório institucional ou como capítulo de livro), com reconhecimento de autoria e publicação inicial nesta revista.
3. Autores têm permissão e são estimulados a publicar e distribuir seu trabalho online (ex.: em repositórios institucionais ou na sua página pessoal) a qualquer ponto antes ou durante o processo editorial, já que isso pode gerar alterações produtivas, bem como aumentar o impacto e a citação do trabalho publicado (Veja O Efeito do Acesso Livre).
Licença Creative Commons
Esta obra está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional, o que permite compartilhar, copiar, distribuir, exibir, reproduzir, a totalidade ou partes desde que não tenha objetivo comercial e sejam citados os autores e a fonte.